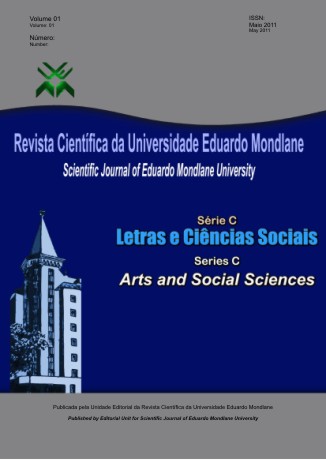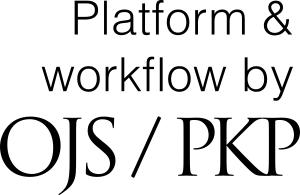VELARIZAÇÃO DA NASAL EM CHANGANA: uma Evidência do Princípio de Contorno Obrigatório no Bantu
Resumo
Este artigo examina a velarização da nasal bilabial /m/, ataque da sílaba final de palavra, que se transforma em nasal velar ([ŋʷ]) em observância ao Princípio de Contorno Obrigatório (PCO), na resolução de um hiato, pela semivocalização da vogal arredondada, criando-se adjacência de segmentos com traços idênticos. Assim, descreve-se dois dos contextos da actuação deste princípio no Changana (a derivação por diminutivização e a localização) e analisa-se os processos da semivocalização da vogal arredondada em final de palavra e a velarização da consoante nasal bilabial à luz da fonologia autossegmental (LEBEN 1973, 2006; GOLDSMITH 1976, 2004; ODDEN 1986), através de dados de três falantes nativos do Changana, residentes em Mandlakaze, colhidos a partir de um questionário linguístico. Numa abordagem qualitativa, traz-se a velarização da nasal bilabial como um exemplo da força do PCO, colaborando com os autores que comprovam a sua validade e universalidade. O mérito desta pesquisa, por um lado, está no facto de ser feito numa língua bantu moçambicana de um grupo linguístico (S50, Tswa-Ronga) cujas línguas, na sua maioria ainda não foram estudadas com a aplicação ou testagem deste princípio. Por outro lado, este artigo é mais uma amostra de que, o PCO, formulado e largamente aplicado ao estudo do tom, pode ser aplicado com sucesso à fonologia segmental, baseada na análise de traços fonéticos. Para tal, este texto organiza-se nas seguintes partes: Introdução; Quadro teórico; Materiais e meios; Regras de resolução de hiatos; Velarização da nasal bilabial; Conclusões.
Referências
BERENT, I; EVERETT, D. L. e SHIMRON, J. Do Phonological Representations Specify Variables? Evidence from the Obligatory Contour Principle. Cognitive Psychology, n.42, doi:10.1006/cogp.2000.0742, 2001, 1-60 p.
CHAER, G; DINIZ, R. R. P. e RIBEIRO, E. A. A técnica do questionário na pesquisa educacional. Evidência. Araxá, v. 7, n. 7, 2011. p. 251-266.
CHOMSKY, N. e HALLE, M. The Sound Pattern of English. The MIT Press, Cambridge Massachusetts, London, 1968
CLEMENTS, G. N e HUME, E. The internal organization of speech sounds. In: GOLDSMITH, J. Handbook of Phonological Theory. Basil Blackwell: Oxford, 1985.p.245-306.
CLEMENTS, G.N. e FORD, K. C. Kikuyu tone shift and its synchronic consequences, Linguistic Inquiry, v.10, n.2, 1979. p. 179-210.
DÖRNYEI, Z. Research Methods in Applied Linguistic. Oxford: Oxford University Press, 2007.
GOLDSMITH, J. Autosegmental phonology. PhD dissertation, MIT. Distributed by Indiana University Linguistics Club and published by Garland, 1976.
GOLDSMITH, J. The aims of Autosegmental Phonology. In Current approaches to phonological theory, ed. by Daniel Dinnsen, 202–222. Bloomington: Indiana University Press. 1979.
GUTHRIE, M. Comparative Bantu. Vols. I- IV. Claredon. Oxford. University Press, 1987-1971.
HAGBERG, L. R. An Autosegmental Theory of Stress. SIL International, SIL e-Books 3, Library of Congress, 2006.
HYMAN, L. M. e NGUNGA, A. On the non-universality of tonal association 'conventions': evidence from Ciyao. In: Phonology 11, Cambridge University Press, 1994. p. 25-68.
INE. Estatísticas do Distrito de Manjacaze – Dingane-2008. Estatísticas Oficiais- Moçambique. 2010.
LEAL, E. G. A queda da sílaba: análise do contexto consonantal pela geometria de traços. Revista Virtual de Estudos da Linguagem – ReVEL. Edição especial n. 1, 2007. ISSN 1678-8931 [www.revel.inf.br].
LEBEN, W. R. 1973. Suprasegmental Phonology. MIT Libraries, Ph.D. Thesis
LEBEN, W. R. 2006. Rethinking Autosegmental Phonology. In Selected Proceedings of the 35th Annual Conference on African Linguistics, ed. John Mugane et al., Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project.
MATSINHE, S. F. Pronominal Clitics in Tsonga and Mozambican Portuguese: A Comparative Study. PhD dissertation, The University of London, ProQuest LLC (2017) Number: 10672666, 1998.
MEEUSSEN, A. E. 1967. Bantu grammatical reconstructions, in: Africana Linguistic 3. (Annalen Wetenschappen van de Mens 61.) Tervuren: Koninklijk Museumvoor Midden-Afrika, 79-121
NGUNGA, A. Introdução à Linguística Bantu. 2ª Edição. Maputo: Imprensa Universitária, 2014.
NGUNGA, A e O. FAQUIR. (eds). Padronização da Ortografia de Línguas Moçambicanas: Relatório do III Seminário. Colecção “As nossas línguas” III. Maputo: Centro de Estudos Africanos (CEA) – UEM, 2011.
NGUNGA, A. e M. C. SIMBINE. Gramática Descritiva do Changana: Colecção “As nossas línguas” V. Maputo: Centro de Estudos Africanos (CEA) – UEM, 2012.
NGUNGA, A. e MARTINS, P. M. Xihlamusarito Xa Xichangana. Colecção “As nossas línguas” VI. Maputo: Centro de Estudos Africanos (CEA) – UEM, 2012.
PULLEYBLANK, D. Tone in Lexical Phonology. Dordrecht: Reidel, 1986
SELIGER, H. W. e SHOHAMY, E. G. Second Language Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 1989.
SEVERINO, A. J. 2010. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. Revista e actualizada, São Paulo, Cortez Editora.
SITOE, B. 1996. Dicionário Changana-Português. Maputo: INDE.
SOARES, M. F e G. N. DAMULAKIS. Do Princípio do Contorno Obrigatório e Línguas faladas no Brasil. Belo Horizonte: Rev. Est. Linguística. V. 15, n. 2. 2007.
YIP, M. The Obligatory Contour Principle and Phonological Rules: A Loss of Identity. The MIT Press, Linguistic Inquiry, v. 19, No. 1 pp. 65-100. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/4178575. Acessado a 21-07-2017 08:20 UTC. 1988.