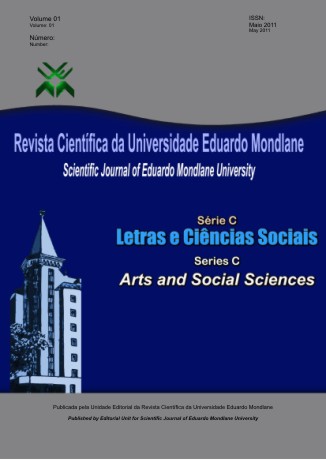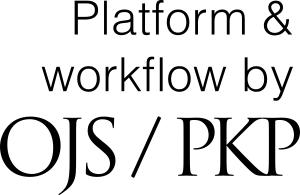ORDENAMENTO LINGUÍSTICO E CONCEPÇÃO DE CATEGORIAS LINGUÍSTICAS: o caso das línguas bantu no sul de Moçambique
Resumo
A conquista e administração de territórios coloniais, na sequência da Conferência de Berlim, impôs necessidades de gestão, o que pressupôs o estabelecimento de uma certa ordem e consequente concepção de categorias para a apreensão da realidade dos referidos espaços territoriais. Neste sentido, diversos actores coloniais (missionários, administradores, exploradores, aventureiros, etc.) procuraram apreender a realidade social dos territórios coloniais, projectando uma ordem social, através da qual se dava uma configuração aos espaços coloniais. Um exemplo disso é a ordem social criada com a definição de categorias (etno)-linguísticas. O artigo tem o objectivo de rever o processo de ordenamento linguístico em Moçambique, tendo em conta a (re)criação de categorias (etno)-linguísticas, com especial incidência na região sul do país. Para o efeito, recorre-se a uma junção de pesquisas documental e bibliográfica. Partindo de abordagens percursoras de missionários e académicos, ou apelando a trabalhos recentes de estudiosos nacionais, serão apresentados elementos que revelam o processo de mapeamento das línguas autóctones, comummente reconhecidas no sul do país. Este processo começa pelas caracterizações e classificações iniciais, feitas pelos primeiros colonizadores europeus, principalmente missionários, que identificaram e configuraram línguas para uso no processo de evangelização. Com a ocupação colonial e sofisticação do instrumentário epistemológico, a que se associa o proselitismo religioso, intensificou-se o trabalho de categorização e mapeamento linguístico, a medida que as categorias linguísicas, como representações da paisagem linguística, foram concebidas e consolidadas. No artigo aponta-se que estas construções linguísticas ainda têm impacto no ordenamento das sociedades actuais, como se demonstra com o caso do sul de Moçambique.
Referências
BERTHOUD, H. Shangaan Grammar: From the manuscript of H. Berthoud of the Swiss Mission. Lausanne: Georges Bridel & Cie, 1908.
BERTHOUD, P. Elements de grammaire Ronga. Lausanne: Impremeries Reunies, 1920.
CHIMBUTANE, F. Panorama linguístico de Moçambique: análise dos dados do III recenseamento geral da população e habitação de 2007. Maputo: Instituto Nacional de Estatística. 2012.
CHICHAVA, S. Por uma leitura sócio-histórica da etnicidade em Moçambique. Maputo: IESE, 2008.
COLE, D. T. African Linguistic Studies, 1943-1960. African Studies. Johannesburg, v. 19, n.4, p. 219-229, 1960.
COURTOIS, V. J. Elementos de grammatica tetense: lingua chi-nyungue: idioma fallado no districto de Tete e em toda a vasta região do Zambeze inferior. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1900.
DOKE, C. M. Early Bantu literature: The age of Brusciotto. In: Herbert, R. K. The Foundations in Southern African Linguistics. Johannesburg: Witwatersrand University Press, p.109-127, 1993.
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRIMENSURA. Atlas de Moçambique. Lourenço Marques: Empresa Moderna, 1960. Disponível em:
DOKE, C. M. The growth of comparative Bantu philology. In: HERBERT, R. K. (ed.). Foundations in Southern African Linguistics. Johannesburg: Witwatersrand University Press, 1993. p. 71-96.
EARTHY, E. D. Some agricultural rites practised by the Valenge and Vachopi (Portuguese East Africa). Bantu Studies. Johannesburg, v. 2, n.1, p. 265-267, 1923.
EARTHY, E. D. Sundry notes on the Vandau of Sofala. Bantu Studies. Johannesburg, v. 4, n. 1, p. 95-107, 1930.
EARTHY, E. D. Note on the "totemism" of the Vandau. Bantu Studies. Johannesburg, v.5, n.1, pp. 77-79, 1931.
EARTHY, E. D. An analysis of folktales of the lenge, Portuguese East Africa. Ethnos: Journal of Anthropology. London, v. 18, n. 1-2, p. 73-85, 1953.
ERRINGTON, J. Colonial linguistics. Annual Review of Anthropology. Palo Alto, v.30, p.19-39, 2001.
ERRINGTON, J. Linguistics in a colonial world: A story of language, meaning, and power. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2007.
FIRMINO, G. Situação linguística de Moçambique. Maputo: Instituto Nacional de Estatística, 2000.
FIRMINO, G. A “questão linguística” na África pós-colonial: o caso do português e das línguas autóctones em Moçambique. Maputo: Promédia, 2002.
FLORÊNCIO, F. Identidade étnica e práticas políticas entre os vaNdau de Moçambique. Lisboa: Cadernos de Estudos Africanos. 2, pp. 39-63, 2002.
FORTIN, M. Fundamentos e etapas do processo de investigação. Loures: Lusodidacta, 2009.
GEERTZ, C. The integrative revolution: primordial sentiments and civil politics in the new states. In: GEERTZ, C. (ed). The interpretation of cultures. New York: Basic Books, 1973. p. 255–310.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2008.
GILMOUR, R. Grammars of colonialism. Representing languages in colonial South Africa. New York: Palagrave-Macmillan, 2006.
GREENBERG, J. The languages of Africa. Bloomington: Indiana University Press, 1966.
GRIMES, B. Ethnologue: the languages of the world. Dallas, Texas: SIL, 1996.
GUTHRIE, M. Comparative Bantu: An introduction to the comparative linguistics and prehistory of the Bantu languages. Hants: Gregg International Publishers, 1967-71.
HALL, B. L.; TANDON, R. Decolonization of knowledge, epistemicide, participatory research and higher education. Research for All. Bristol, v. 1, n. 1, p. 6-19, 2017. Doi 10.18546/rfa.01.1.02.
HARRIES, L. An outline of Mawiha grammar. Bantu Studies. Johannesburg, v. XIV, p. 91-146, 1940.
HARRIES, P. The roots of ethnicity: Discourse and the politics of language construction in South-East Africa. African Affairs, Oxford, v. 87, n. 346, p. 25-52, January 1988.
HARRIES, P. Junod e as sociedades africanas: Impacto dos missionários suiços na África Austral. Maputo: Edições Paulinas, 2007.
HASHA, P. Bantu studies: The French in East Africa. Cahiers d'Etudes Africaines. Paris, v. 25, n. 98, p. 259-262, 1985.
HEINE, B.; NURSE, D. Introduction. In: HEINE, B.; NURSE, D (ed.). African Languages: An introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, p. 1-10.
HERBERT, R. K. (ed.). Foundations in southern African linguistics. Johannesburg: Witwatersrand University Press, 1993.
HETHERWICK, A. Handbook of the Yao language. London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1902.
INE (INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA). IV Recenseamento geral da população-2017. Maputo: INE, 2019. Disponível em: < http://www.ine.gov.mz/iv-rgph-2017>. Acesso em: 07 Março 2021.
IRVINE, J. Subjected words: African linguistics and the colonial encounter. Language and Communication. Kidlington, v.28, p.323–324, 2008.
JAQUES, A. A. Shangana-Tsonga ideophones and their tones. Bantu Studies. Johannesburg, v.15, n.1, p. 205-244, 1941.
JESUS, M. d. Dicionário Português-Nyanja pelos Missionários da Companhia de Jesus. Lisboa: Junta de Investigação do Ultramar, 1963.
JUNOD, H. A. Bukhaneli bya sironga: grammar of the ronga language. Lausanne: Georges Bridel & Cie, 1903.
JUNOD, H. A. Elementary grammar of the Thonga-Shangaan language. Shiluvane: Swiss Mission, 1907.
JUNOD, H. A. Vulavuri bya sithonga (Grammaire thonga en thonga). Lausanne: Imprimeries Réunies, 1929.
JUNOD, H. A. Usos e costumes dos Bantu. Maputo: Arquivo Histórico de Moçambique, 1996.
JUNOD, H. P. Grammaire Ronga suivie d’un manuel de conversation et d’un vocabulaire. Lausanne: Georges Bridel & Cie, 1896.
JUNOD, H. P. Some Notes on Tʃopi origins. Bantu Studies. Johannesburg, v. 3, n.1, p. 57-71, 1927.
JUNOD, H. P. Elements de grammaire Tchopi (m’chopes). Lisboa: Carmona, 1931
JUNOD, H. P. Notes on the ethnological situation in Portuguese East Africa on the south of the Zambesi. Bantu Studies. Johannesburg, v. 10, n. 1, p. 293-311, 1936.
KAMTEDZA, J. D. Elementos de gramática Cinyanja. Lisboa: Junta de Investigação do Ultramar, 1964.
LANHAM, L. W. A study of Gitonga of Inhambane. Johannesburg: Witwatersrand University Press, 1955.
LYNCH, G. Ethnicity in Africa. In: ________ Oxford Research Encyclopedia of African History. Oxford: Oxford University Press, 2018.
MABONGO, A. W. Diversidade étnica e exclusão social no processo da consolidação da unidade nacional: O caso dos vendedores e vendedoras informais do mercado de Estrela Vermelha - cidade de Maputo. 2015. 153f. Dissertação (Mestrado em Relações Interculturais). Curso de Pós-Graduação em Relações Interculturais, Universidade Aberta, Lisboa, 2015.
MACAGNO, L. Lendo Marx "pela segunda vez": Experiência colonial e a construção da nação em Moçambique. In: IV COLÓQUIO MARX E ENGELS, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas: UNICAMP, 8 a 11 de novembro de 2005. Disponível em:
MACAGNO, L. Fragmentos de uma imaginação nacional. Revista Brasileira de Ciências Sociais. S. Paulo, v. 24, n. 18, p. 17-35, 2009.
MAHO, J. The Bantu area: (towards) clearing the mess. Africa & Asia. Göteborg, v. 1, p. 40-49, 2001.
MAKONI, S. e PENNYCOOK, A. Disinventing and reconstituting languages. In: MAKONI, S. e PENNYCOOK, A (ed). Disinventing and reconstituting languages. Clevedon: Multilingual Matters, 2007, p. 1-41.
MALYN, N. A short history of Mozambique. Johannesburg/Cape Town: Jonathan Ball Publishers, 2018.
MAPLES, C. Collections for a handbook of the Makua language. London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1879.
MARTINS, M. d. Elementos da língua Nyungwe: Tete, Moçambique: Gramática e dicionário (Nyngwe-Português-Nyungwe). Roma: Missionários Combonianos, 1991.
MAUGHAM, R. C. Studies in the chi-Makua language. Zanzibar: Universities' Mission Print, 1909.
MISSIONÁRIOS DA COMPANHIA DE JESUS. Elementos de gramática Cinyanja. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1964.
MONDLANE, E. Tribos ou grupos étnicos moçambicanos. In: J. REIS, J.; MUIUANE, A. P. (ed.). Datas e documentos da história da FRELIMO. Maputo: Imprensa Nacional, 1975. p. 73-79.
MOREIRA, A. Practical grammatical notes of the Sena language. Vienna: St. Gabriel-Modling, Anthropos, 1924.
MOUNIN, Georges. História da linguística: das origens ao século XX. Porto: Despertar, 1970.
MUDIMBE, V. Y. The invention of Africa: Gnosis, philosophy, and the order of knowledge. Bloomington: Indiana University Press, 1988.
NELIMO (NÚCLEO DE ESTUDO DE LÍNGUAS MOÇAMBICANAS). I Seminário sobre a padronização da ortografia de línguas moçambicanas. Maputo: Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação/Universidade Eduardo Mondlane, Faculdade de Letras, NELIMO, 1989.
NGUNGA, A.; FAQUIR, O. G. Padronização da ortografia de línguas moçambicanas: Relatório do III Seminário. Maputo: Centro de Estudos Africanos/UEM, 2012.
NOGUEIRA, R. d. Da importância do estudo científico das línguas africanas. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, Ministério do Ultramar, 1958.
PERSSON, J. A. English-Tswa dictionary. Cleveland (Transvaal, South Africa): Inhambane Mission Press, 1928.
PERSSON, J. A. Outline of a Tswa grammar with practical exercises. Cleveland (Transvaal, South Africa): Inhambane Mission Press, 1932.
POSSE, L. Identidades étnicas e governação municipal: algumas notas para reflexão a partir do caso da Beira. In: CHICHAVA, S. Desafios para Moçambique: Dez anos pensando no país. Maputo: IESE, Maputo, 2019, p. 111-128.
PRATA, A. P. Gramática da língua macua. Cucujães: Sociedade Missionária Portuguesa, 1960.
QUINTÃO, J. L. Dicionários Xironga-Português e Português-Xironga. Lisboa: Agência-Geral da Colônias, 1951.
REIS, J.; MUIUANE, A. P. (ed.). Datas e documentos da história da FRELIMO. Maputo: Imprensa Nacional, 1975.
RIBEIRO, A. Gramática Changana. Caniçado, Gaza: Evangelizar, 1965.
RITA-FERREIRA, A. Agrupamento e caracterização étnica dos indígenas de Moçambique. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical, 1958.
RITA-FERREIRA, A. Mozambique ethnic characterization and grouping. South African Journal of Science. Pretoria, v. 55, n. 8, p. 201-204, 1959.
RITA-FERREIRA, A. The ethno-history and the ethnic grouping of the peoples of Moçambique. Africa Insight. Pretoria, v. 3, n. 1, p. 56-76, 1973.
RITA-FERREIRA, A. Povos de Moçambique. Porto: Afrontamento, 1975.
SAID, E. W. Orientalismo: o oriente como invenção do ocidente. São Paulo : Companhia das Letras, 1990.
SANTOS, B. S. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia dos saberes. In: SANTOS, B. S. e; MENESES, M. P. (ed.), Epistemologias do sul. São Paulo: Cortez, 2010, p. 31-83.
SANTOS, L. F. Gramática da língua Chope. Lourenço Marques: Imprensa Nacional, 1941.
SEVERO, C. G. A invenção colonial das línguas da América. Alfa. São Paulo, v. 60, n. 1, p. 11-28, 2016.
SITOE, B.; NGUNGA, A. Padronização da ortografia de línguas moçambicanas: relatório do II seminário. Maputo: NELIMO, 2000.
SMYTH, W. E. A vocabulary with a short grammar of Xilenge, the language of the people commonly called Chopi, spoken on the east coast of Africa between the Limpopo river and Inhambane. London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1902.
SMYTH, W. E. Vocabulary of the Gitonga language. London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1913.
SUMICH, J. Construir uma nação: Ideologias de modernidade da elite moçambicana. Análise Social. Lisboa, v. XLIII, n. 2, p. 319-345, 2008.
TORREND, J. Grammatica do Chisena: a grammar of the language of the lower Zambezi. Chipanga, Zambézia: Typ. da Missão de Chipanga, via Chinde, Zambézia, 1900.
WARMELO, N. J. van. Das Gitonga. Zeitschrift fur eingenborenen-sprachen. Hamburg, v. 22, p. 16-46, 1931.
MOHL, A. von der. Praktische grammatik der Bantu-sprach von Tete: einem dialeky des Unter-Sambesi mit varianten der Sena-sprache. Mitteilungen des Seminar fur Orientalische Sprachen an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Berlin, v. 7, n.3, p. 32-85, 1904.
VITALI, E. The role of language and the significance of primordialism in nationalistic rhetoric. Colloquium: New Philologies. Klagenfurt, Áustria, v.4, p. 149-190, 2019.
WOODWARD, H. W. An Outline of Makua grammar. Bantu studies. Johannesburg, v. 2, n.1, p. 269-325, 1923.